para ler ouvindo rm - nuts
Não foi de propósito, mas calhou que dia 1º de junho foi o dia que comecei uma vida nova morando sozinha em São Paulo.
Ou dia 2 de junho, se você quiser contar a partir do momento em que me despedi dos meus pais na calçada do novo prédio, lugar em que vi o carro deles se afastar rumo ao horizonte sem derrubar lágrima alguma. Também não chorei — nem de tristeza, nem de felicidade, nem de alívio — quando fechei a porta atrás de mim e me vi sozinha pela primeira vez, tampouco quando minha mãe me ligou horas mais tarde para avisar que tinha chegado em casa.
Eu imaginei aqueles dias tantas vezes, e em nenhuma delas era tudo tão banal, tão… calmo. Em 2019, quando saí de casa para morar em São Paulo pela primeira vez, a coisa foi muito mais dramática. Passei o mês anterior, dos preparativos, chorando. No dia da viagem, eu e minha mãe tomamos café da manhã aos prantos. Não consegui sequer olhar para Francisco, o poodle, da janela do carro, não dei tchau pra ele, e até hoje sinto uma pontada dolorida no coração quando me lembro disso. Acho que parei de soluçar depois de Uberaba (MG), a mais de 100km de distância de casa. Quando liguei pra minha mãe, horas depois, nós duas caímos no choro de novo.
Vira e mexe eu olhava pra trás, para a memória dessa primeira despedida, e sentia um alívio imenso por já ter arrancado esse band-aid, numa certeza ingênua de que ao menos essa parte difícil da história já estava resolvida. Então veio a pandemia, a volta para Minas Gerais, a vida toda mudou e me vi de novo nessa travessia, solta e aterrorizada com a ideia de ter que me rasgar inteira de novo para me despedir.
Numa leitura de tarot em 2021, ouvi que eu não tinha saído de casa, não ainda. Na minha árvore da vida, 2019 não havia representado a ruptura profunda que esse tipo de movimento traz, a emancipação necessária da segurança de casa que inaugura, enfim, a vida adulta. Você ainda tem que rasgar esse véu, disse a mística olhando as cartas, o que pra mim, no fundo, não era nenhuma novidade, mas toda vez que lembrava disso só conseguia pensar: que merda, hein?
*
Eu demorei quatro anos para voltar para São Paulo.
Para contar essa história, mais uma vez sou forçada a recordar daquela passagem do livro da Amanda Palmer que é tão recorrente na minha mitologia pessoal: o cachorro pode até chorar, mas ele não se levanta do prego enquanto aquele incômodo não estiver doendo o suficiente. Foi em julho do ano passado que o prego se tornou insuportável.
Ao final das aulas de yoga daquele segundo semestre de 2023, durante o savasana a professora nos dizia para repetirmos internamente nossas afirmações, uma frase no tempo presente com aquilo que gostaríamos de alcançar. E ao final de cada aula eu repetia para mim mesma: eu me sinto segura segura, eu estou em paz, eu tenho um lar em São Paulo.
*
Acho que meu maior sonho até hoje sempre foi ser independente. E em algum momento dessa trajetória, ser independente se tornou sinônimo de morar sozinha em São Paulo. Esse objetivo sempre esteve atrelado àquele que considero meu maior ato de rebeldia até hoje, que foi escolher uma faculdade que meus pais não aprovavam.
Para ser sincera, nem é que eles desaprovavam, e sim que tinham ressalvas quanto às perspectivas de futuro que uma menina de Uberlândia (MG) poderia ter enquanto jornalista — niqui eles estavam absolutamente corretos. Na época, claro, eu lidei com isso da forma como qualquer garota de 17 anos que nunca precisou trabalhar para viver lidaria: achei tudo muito demodê, muito pequeno burguês, e repostava aquela cena da Ally Sheedy em Breakfast Club sempre que tinha a oportunidade, me sentindo cheia de razão.
Eu queria escrever! Eu queria seguir minha vocação! Eu queria conhecer pessoas interessantes e ouvir suas histórias, não fazer networking. Eu achava que networking era coisa de gente sem alma, porque quando você cresce o seu coração morre e eu acreditava piamente que tinha tanta alma, tanto coração, que isso seria suficiente pra que tudo desse certo. Por mais delusional que fosse essa perspectiva, até hoje considero essa como uma das decisões mais saudáveis que já tomei na vida. Completamente estúpida do ponto de vista pragmático, mas nota 10 no quesito emancipação do sujeito.
Eu vi muitas vezes o brilho nos olhos dos meus pais todas as vezes em que flertei com a ideia de prestar algo como Direito, Medicina ou Psicologia — na cabeça deles, profissões que existiam de verdade, ao contrário de Jornalismo, que em 2009, ano que ingressei no ensino médio, derrubou a necessidade do diploma para o exercício da função —e mesmo sendo doente por aprovação como era e ainda sou, escolhi aquilo que realmente queria.
Contra todas as possibilidades, a vida se impôs. Ou será que fui eu? De toda forma, um beijo para a Anna Vitória de 17 anos!
Negociar com meus pais foi fácil se for comparar com a negociação que precisei fazer comigo mesma ao escolher meu caminho profissional. Em troca de tamaaaaanha audácia, de tamaaaaaaaaanha ambição, internalizei que eu precisava Dar Certo Na Vida, precisava Chegar Lá a qualquer custo, daí a minha obsessão por independência. Eu não queria fugir de um ambiente opressivo em casa, eu não queria ser rica, eu não queria provar nada pra ninguém. Seria muito mais interessante se fosse assim, mas eu só não queria que o meu pecado de ser uma garota ambiciosa e teimosa onerasse alguém além de mim.
O que isso significava exatamente? Não sei, mas estamos falando de um ideal que tomou diversas formas ao longo da minha juventude, era o que eu achava que tinha que fazer para me autorizar a viver. Essa é a história dos meus 20 anos.
*
O que aprendi no meu processo terapêutico e nos tombos que levei da vida é que essa ideia de Chegar Lá — seja ela pautada por uma noção neoliberal de sucesso ou por um ideal pessoal qualquer — é muito ilusória, prejudicial até. Nesse sentido, os momentos em que eu “dei errado” nesses últimos anos foram os mais importantes para mim e sinto que eles me trouxeram até aqui muito mais do que aqueles em que tudo deu certo, porque dar errado me salvou de mim mesma, de muitos dos meus medos e neuroses, como essa ideia de que tenho que fazer tudo sozinha pra justificar o espaço que ocupo no mundo. Aprender a perder, em todos os sentidos, foi a lição mais importante dessa primeira parte da minha vida adulta. Essa foi a minha verdadeira emancipação.
Se você me lê há um certo tempo, é provável que tenha acompanhando diferentes fases dessa trajetória, do Processo ao niilismo, da minha era Reputation ao “a vida não não faz sentido narrativo”. Foi a escrita que me permitiu dar forma e manipular essas experiências para me apropriar delas, neutralizar seu veneno. Não estou totalmente imune, acho que nunca vou estar, mas sei que adquiri ferramentas importantes para lidar com ele.
Foram anos de dedicação a um único horizonte possível e é por isso que só muito recentemente fui apresentada à segunda cabeça desse monstro: e se as coisas derem certo? O inimigo agora é outro.
*
Quatro anos atrás, naquela mudança tão dramática, não era de tristeza que eu chorava, mas de todos os sentimentos profundos e complexos que envolvem crescer e se perceber sem lugar no lugar que te criou, um choro que mistura um pedido de desculpas para aquele lugar, para aquela vida, por querer mais e, ao mesmo tempo, pelo menos no meu caso, um choro agradecido pelo chão embaixo dos pés que serve de impulso pro salto. Eu era a Lenu chegando no bairro de visita e chorava porque sempre tive muito medo das coisas darem errado, mas também é assustador quando as coisas dão certo.
Passei a última década tão focada em Fazer e Acontecer que não me dei conta de como eu mudaria nesse processo, de como a gente se transforma quando nossos horizontes se expandem. E aqui eu gostaria de abandonar esse binômio de Dar Certo e Dar Errado para olhar para a minha trajetória como simplesmente um processo de expansão, sem juízos de valor. Eu chorava porque, no fundo, não queria mudar, não queria ultrapassar as bordas do que era conhecido, familiar e seguro. Eu queria mudar de cidade, mas não queria mudar quem eu era. Eu tinha medo do que isso poderia significar. Eu tinha medo do desencaixe, de não pertencer, de não saber como voltar.
Nada aconteceu da forma como eu imaginava lá em 2019. Eu voltei pra casa, por exemplo, e esse retorno me trouxe um sentido de segurança e pertença que foi fundamental para a confusão generalizada que foram esses últimos anos no mundo externo. Por muito tempo vi esse período como um hiato, como se minha vida de verdade estivesse me esperando, imóvel, para um retorno triunfal.
Junto a essa vida estava também uma ideia de mim mesma profundamente consolidada, uma identidade que fui lapidando por anos, moldada para aquela linha de chegada que projetei naquele sonho adolescente de independência. Eu achava que esse eu estaria ali, pronto para ser usado, como se fosse um casaco chique como aqueles usados pela Anne Hathaway naquela montagem de O Diabo Veste Prada, que acredito ser a imagem cristalizada de sucesso e independência que minha geração tem na cabeça.
Mas eu demorei quatro anos para voltar para São Paulo. Já escrevi isso alguns parágrafos acima, mas preciso repetir essa informação porque quatro anos é muito tempo e eu ainda tenho uma certa dificuldade de processar esse período, como se ele tivesse passado despercebido. Mentira. Eu senti cada um desses mais de mil e quinhentos dias, mas não como uma experiência que você percebe e elabora, mas sim como algo que te atropela, uma onda que passa por cima e não só te afoga, mas te deixa com areia na calcinha até o fim do passeio.
Sinto que só agora tenho conseguido elaborar o que vivi, inscrevendo todos esses anos na minha história como uma moira estagiária que todos os dias reproduz a tessitura da trama tecida na noite anterior, como forma de treinar o ofício. A história já foi escrita, aquele exercício não vai mudar o destino, mas pelo menos ela vai saber como foi que chegou lá.
*
Então cheguei lá e encontrei uma pessoa diferente, incompatível com aquela ideia que eu mesma construí sobre mim nos últimos anos. Eu tive, e às vezes ainda tenho, vergonha dela. Por muito tempo era só isso que conseguia elaborar ao tentar colocar em palavras a angústia que sentia, a vergonha. Até que lembrei de ter lido num livro da Brené Brown que a vergonha é o sentimento que surge quando acreditamos que somos indignos de amor.
Eu demorei muito pra admitir que de fato era isso que eu estava sentindo, medo de não ser amada — seja por ter crescido, seja por ter mudado de ideia, seja por querer coisas diferentes do que já quis um dia — pois, confesso, achava esse negócio de querer ser amada uma parada meio atrasada. Logo eu, que sou tããaaoooo autossuficiente.
Mas depois de sete anos de análise aprendi que quase todo faniquito nos leva mesmo a essa simples questão, amar e ser amada, o que eu sei que não é pouca coisa, mas escrever assim com todas as palavras na frente dos outros ainda me dá um pouco de vergonha. Olha ela aí de novo, revelando que espero a aprovação de leitores que, em sua maioria, mal me conhecem, e também de pessoas que me conhecem e ainda não me viram elaborar esses sentimentos de forma tão direta e transparente.
É meio que isso aí mesmo.
Quanta merda na cabeça.
*
Eu achava que iria me mudar sozinha com a minha vida em duas malas grandes cruzando a BR 050 numa passagem só de ida rumo à minha nova vida. Eu queria me mudar sozinha para não expor ninguém ao constrangimento de me ver reencenar minha partida dramática de 2019, um choro que jurei pra mim mesma que ia engolir sozinha junto com meio zolpidem e o primeiro cd da Phoebe Bridgers, para já estar dormindo antes que “Scott Street” começasse. Quando eu chegasse, por volta das seis da manhã, tudo haveria passado, e eu estaria livre pra viver minha vida nova.
Eu achava que precisava dar esse último passo sozinha para que ninguém percebesse que em algum lugar eu ainda sou aquela garota de 17 anos que precisa de permissão pra ocupar espaço no mundo ou que me descobri uma mulher de 30 anos que gostaria de ser amada por ser quem é. Quem daria as chaves de um apartamento para uma pessoa assim?
Mas de novo, e felizmente, a vida se impôs e minha mudança consistiu em um carro lotado com tudo que coube do meu quarto em caixas e sacolas, o lindo enxoval que minhas avós fizeram para mim, meus pais divorciados fazendo o possível para ser a melhor versão deles mesmos diante de uma travessia tão concreta e simbólica, e eu ali no banco do passageiro pilotando mal e porcamente o mapa no Waze. Junto com meu namorado, em poucas horas nós organizamos minha nova casa, fomos na loja de utilidades, fizemos supermercado (o único momento em que chorei ao longo desse intenso processo) (eu estava exausta de fazer escolhas!!!) e terminamos a noite recebendo meus tios — minhas primeiras visitas! — para comer torradinhas com homus e beber gin tônica direto do meu bar.
E como na mais clichê das histórias, a lição final da minha jornada de independência estava em rejeitar o ensimesmamento covarde para aceitar a vulnerabilidade bonita que existe em aceitar ajuda, me permitir ser cuidada, deixar as pessoas entrarem na minha casa (literal e figurativamente) acreditando que elas podem amar as diferentes verdades que existem dentro de mim, mesmo que elas sejam diferente delas e diferentes do que elas já conheceram de mim um dia. Eu sempre imaginei esse momento como uma ruptura, mas na verdade ele se apresentou como uma integração muito bem-vinda e eu acho que é daí que vem a minha calma recém conquistada e quase desconhecida.
*
A verdade é que eu estou me mudando há tanto tempo que estar aqui é como finalmente chegar em casa, qualquer casa, depois de uma longa e exaustiva viagem. Escrevi extensivamente sobre isso nos últimos anos, numa tentativa desesperada de dar forma a esse não-lugar que venho habitando há um tempo, e que parece que só agora consegui aceitar como meu. Estar morando num lugar tão impessoal — ao menos a princípio — combina bem com esse momento em que não sei direito quem eu sou, em que estou tentando descobrir o que isso significa enquanto me habituo essa transformação.
Meus pais, minha avós, minhas amigas, todo mundo tem perguntado como eu estou, o que estou achando, como está minha vida agora, e é isso — tudo —que gostaria de responder. Mas como são conversas de telefone e mensagens de Whatsapp, e não uma correspondência dramática escrita em meados do século XVIII, eu digo que estou bem, que estou adaptada, que faço almoço duas vezes na semana, que gosto de limpar a casa nas noites de sexta, que o sistema de coleta de lixo do prédio é excelente, o supermercado aqui do lado também.
Sou independente e tenho um lar em São Paulo como eu sempre sonhei. Me sinto segura, estou em paz. É um apartamento mobiliado provisório, mas já o sinto como tão meu que dá até medo. Agora, no final de julho de 2024, posso dizer que cheguei em algum lugar.
Hello stranger, como vai você?
Estou há mais de um mês escrevendo esse texto e confesso que não aguentava mais. Na verdade sinto que estou há dois anos escrevendo sobre um mesmo processo e parece que agora, finalmente, eu esgotei tudo que tinha para dizer. Não via a hora disso chegar porque sinto falta de ter uma newsletter, digamos assim, mais normal, como naquela edição sobre a Barbra Streisand que parece que vocês gostaram bastante.
Mas se vocês gostam de ser testemunhas das minhas sessões de terapia, deixo aqui os dois textos anteriores dessa… digamos assim… Trilogia da Mudança — por sua conta em risco.
Vocês são sempre muito generosos nas respostas e em todas as histórias que dividem comigo, e eu sou péssima em corresponder a gentileza não por falta de consideração, mas sim porque às vezes escrevo umas coisas aqui que me fazem sentir tão vista que fico meio sem reação quando me dou conta de que as pessoas leem.
E eu escrevo para ser lida mesmo, mas é tudo muito complicado. Espero que agora eu finalmente tenha tempo na terapia para falar mais sobre isso.
Até lá, don’t be a stranger.
Obrigada pela companhia e por chegar até aqui!
Com carinho,
Anna Vitória









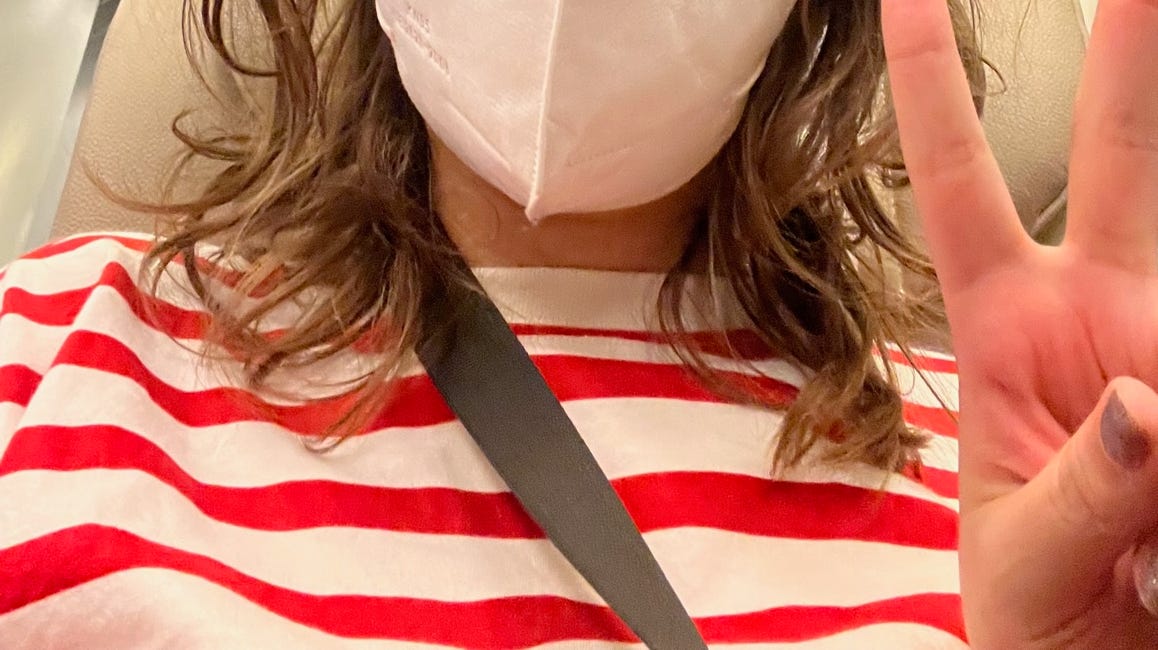


Parabéns pela casa nova, Anna! Mal vejo a hora desse momento chegar por aqui. Estava com saudades dos teus textos. Um beijo!
Parabéns pela casa nova, Anna! Mal vejo a hora desse momento chegar por aqui. Estava com saudades dos teus textos. Um beijo!