Os favoritos de uma pessoa normal, versão março de 2025
Por que gostamos tanto de ver médicos na TV?
para ler ouvindo mouse rat - the pit
— Você tem certeza que é essa série que você quer ver agora?
Foi isso que disse meu namorado quando me viu dar play em The Pitt, deitada em posição fetal no sofá.
Minutos antes eu estava chorando no seu colo por conta da Bad dos Dentes, uma crise que também dialogava com questões relacionadas a mortalidade, fazendo com que fosse mesmo estranho que logo em seguida eu tenha ido buscar conforto em uma série que se passa em um pronto-socorro, esse lugar onde corpos não funcionam e pessoas morrem o tempo inteiro.
Mas sim, eu tinha certeza que aquela era exatamente a série que eu queria assistir.
Médicas e enfermeiras, they get the job done
Quando eu era pequena, eu tinha muito medo da série Plantão Médico, que passava nas noites de domingo na Globo, depois do Fantástico1.
Foi só muitos, muitos anos depois que caiu minha ficha que a aterrorizante Plantão Médico era a versão em português de ER, que naquela época ainda era exibida na Warner e não me parecia nem um pouco ameaçadora. Quão estranho é o fato de uma das minhas memórias mais antigas ser a abertura de uma série de TV que me dava arrepios, e essa série ser uma série de médicos, dentre todas as coisas?
Minha relação ambivalente com médicos e hospitais é um tema recorrente na análise e algo que ainda não consigo elaborar num texto único. O que sei é que eu via House porque achava engraçado e porque o Hugh Laurie virou um interessante objeto das minhas fantasias eróticas. Eu assistia Grey’s Anatomy porque Meredith Grey me dava desculpas para chorar numa fase da vida em que eu não me sentia segura para chorar sobre as coisas que me afligiam de verdade. Eu assisti Sob Pressão na pandemia porque aqueles médicos pareciam estar tendo dias tão ruim quanto os meus e isso, de certa forma, me consolava.
Hoje eu vejo The Pitt porque todos os personagens são profissionais da saúde muito bons no que fazem. Como se isso não bastasse, eles também são, em sua maioria, humanos, doces e determinados a fazer o melhor que podem para ajudar os outros — o que, infelizmente, é bem diferente de tudo que vivi em todas as vezes que precisei recorrer a um pronto-socorro nos últimos anos. Ver essas pessoas fazerem bem os seus trabalhos é extremamente satisfatório nessa fase do capitalismo em que nada funciona como deveria e tudo é uma merda (dois textos legais sobre isso: a bostificação da internet e as pessoas são ruins de serviço ou os empregos é que são ruins?).
Foi isso, pelo menos, que eu respondi para o meu namorado.
Já Alan Sepinwall, crítico de TV da Rolling Stone estadunidense, foi capaz de dizer a mesma coisa de forma mais elaborada:
O absoluto nível de competência, preparo e dedicação demonstrados ao longo dessa hora [de televisão] é de tirar o fôlego, especialmente em um momento em que tantas pessoas no poder não sabem o que estão fazendo e parecem não se importar com o impacto de suas ações para além de si mesmas. Ao longo do episódio, vemos pessoas tentando sobreviver a um verdadeiro pesadelo, mas, de alguma forma, também é inspirador lembrar que, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda existem aqueles que não só desejam ajudar os outros, mas são quase sobre-humanamente capazes de fazê-lo.
(tradução minha, grifos idem)
The Pitt pega emprestado a premissa de 24 Horas, que é acompanhar os personagens em tempo real; ou seja, cada episódio equivale a uma hora de um plantão no Centro de Trauma de Pittsburg. Noah Wyle, veterano de ER, interpreta o chefe do setor, Dr. Robinavitch, ou simplesmente Dr. Robby, e eu gosto muito de como ele embaralha todos os clichês que se esperam de um personagem como o seu. Sim, ele é um médico com habilidades técnicas muito acima da média; sim, ele é carrancudo, não lida bem com seus traumas, estragou os melhores relacionamentos que teve e está tendo um péssimo dia.
Mas ele também é um médico sensível e empático, o tipo de cara que escolheu seguir fazendo parte da vida de seu enteado após o fim de um relacionamento, o tipo de chefe que insiste que sua equipe faça um minuto de silêncio para cada paciente perdido.
Eu gosto muito do Dr. Robby. Assim como eu, ele não superou a pandemia.
Eu acho que ninguém superou, para ser bem sincera, e nossa memória coletiva sobre esse evento (ou a falta dela) também tem sido tema de reflexões recorrentes por aqui. Em The Pitt, vemos nosso querido Dr. Robby ser assombrado por flashes do período pandêmico em vários momentos do seu dia. Ele pode até não estar elaborando toda essa bagagem como se deve, mas ao seu redor tudo que vemos são os rastros que essa tragédia (junto com todas as outras dos últimos 25 anos) deixou na sociedade a partir das histórias que se desenrolam nos corredores do hospital.
Tenho essa sensação recorrente de que a vida como a conhecíamos desmoronou nos últimos 10, 15, 20 anos, a depender de qual foi a crise específica que te desgraçou sem possibilidade de volta. Mas como essa é a vida real e não uma série de TV, a história não terminou quando o asteroide se chocou com a Terra. Nós continuamos aqui, trabalhando cada vez mais e conversando sobre tudo isso muito menos do que deveríamos.
Assistir The Pitt é como enxergar essa terra arrasada de maneira clara, sem as lentes difusas dos nossos cérebros enevoados, e faz bem porque ela mostra o desastre e a solução ao mesmo tempo, essa saída que só existe dentro de nós.
Em outras notícias:
Todos os sentimentos bons, todo o conforto e esperança que uma obra como The Pitt inspira é cruelmente desmantelado pela outra série que assisti nos últimos meses: Industry. Também um seriado em que acompanhamos (algumas) pessoas muito boas fazendo o seu trabalho, mas aqui os personagens são os ambiciosos funcionários de um banco de investimentos meio que destruindo todo nosso tecido social em troca de uma gorda comissão e a mistura de pulsões de vida e morte em velocidade 5 do créu que só (muito) poder pode trazer. É como se você estivesse vendo Succession, mas do ponto de vista dos traders que precisam lidar com os humores e desejos de pessoas como Logan e Kendall Roy. E com muito, muito mais sexo e cocaína.
Industry também é uma excelente obra para pensarmos numa era pós-Me Too no mundo do entretenimento. Não sei se vocês sabem, mas o Me Too (e o universo audiovisual que ele inspirou) foi o tema da minha dissertação de mestrado e um lado meu quis muito que Industry existisse naquela época para que eu pudesse aprofundar ainda mais a análise ao olhar para o legado do movimento no médio prazo. Eu e o
vimos a série na mesma época em que se desenrolou o caso da Blake Lively e do Justin Baldoni, que também coincidiu com a hecatombe de merda que foi o evento CPF na nota, e tudo isso me fez pensar muito sobre meu trabalho, as coisas que li durante o mestrado e nesses últimos 10 anos (!) que passei estudando como se dá o discurso sobre violência sexual diante 𝓭𝓸 𝓪𝓭𝓿𝓮𝓷𝓽𝓸 𝓭𝓪𝓼 𝓶𝓲́𝓭𝓲𝓪𝓼 𝓼𝓸𝓬𝓲𝓪𝓲𝓼.Cheguei a tirar da estante alguns livros sobre o tema na esperança de escrever algo sobre o assunto, mas acabei entretida com outras coisas e deixei esse vespeiro de lado. Talvez eu volte ao tema em outro momento, os livros — Operação Abafa e Amanhã o Sexo Será Bom Novamente — ainda seguem ao lado da minha cama.
O que eu queria mesmo dizer é: vejam Industry.
Uma coisa engraçada que nunca divulguei aqui: ano passado, dei entrevista para uma matéria do G1 sobre o caso P. Diddy e a possibilidade de vermos um “Me Too da música”. Às vezes eu também sou Anna Vitória Rocha, 𝓹𝓮𝓼𝓺𝓾𝓲𝓼𝓪𝓭𝓸𝓻𝓪 𝓭𝓮 𝓭𝓲𝓼𝓬𝓾𝓻𝓼𝓸𝓼 𝓭𝓮 𝓰𝓮̂𝓷𝓮𝓻𝓸.
Uma boa experiência no cinema
Muita gente têm comentado, acredito que com razão, sobre como as pessoas estão se comportando de forma cada vez pior no cinema (e nos espaços públicos em geral) depois da pandemia. Tive a sorte de não ter passado por nenhum episódio dramático de falta de educação alheia e, na verdade, me chamou a atenção (positivamente) o silêncio sepulcral da sessão em que assisti Ainda Estou Aqui, bem como as reações emocionadas da plateia diante de alguns filmes.
Nesse começo de ano, foram alguns momentos curiosos: as reações de surpresa e horror patrocinadas pelo último ato de A Substância (um filme que eu gostei); os gritinhos de tesão das mulheres que estavam na minha sessão de Babygirl (um filme que eu gostei enquanto via, mas com o tempo passei a desgostar); e a galera cantando baixinho junto com os números de Wicked (um filme que eu gostei muito mais do que imaginei). Essa última, aliás, me enterneceu mais até do que se a sessão tivesse virado um sing-a-long propriamente dito, porque existia uma pureza em ver o conflito do público em não querer atrapalhar os outros e ao mesmo tempo não resistir à canção “Defying Gravity”.
Mas o troféu de melhor sessão de cinema do trimestre vai para Um Completo Desconhecido, a aguardada cinebiografia do Bob Dylan. Eu e o Bruno fomos assistir no sábado de carnaval, as duas pessoas que menos tinham algo a perder em todo o universo naquele momento. Ninguém cantou junto e o filme não arrancou reações audíveis da plateia, mas a minha vontade era dar uns tiros para cima assim que os créditos começaram a rolar. Não tenho nenhuma opinião técnica para dar, mas o que posso dizer é que achei o filme profundamente satisfatório, apaixonante, gostoso de ver. Não botava fé e deitei para o trabalho do Timothée Chalamet, achei a performance vocal ótima, respeitosa até; não é uma cópia do Bob Dylan e nem pretende ser, mas entrega o que precisa com muita dignidade.
Disseram por aí que trata-se de um filme para apresentar Bob Dylan para as novas gerações, e às vezes o roteiro meio Telecurso 2000 incomoda, mas eu me vendi rapidinho e em troca ganhei um presente maravilhoso: Um Completo Desconhecido me lembrou como eu gosto e já gostei de Bob Dylan nessa vida, como descobrir o Highway 61 foi um marco da minha adolescência e como música ao vivo é a melhor coisa que existe.
Em outras notícias:
O filme do Bob Dylan me levou de volta para a fase da minha adolescência em que descobri o folk e acreditei piamente que estava diante da forma mais pura e sublime de arte e de música que alguém poderia alcançar. Além de ouvir muito Bob Dylan nos últimos meses, resgatei o Vanguart, outra paixão da minha adolescência, e meus dois discos favoritos da banda (Multishow Registro e Boa Parte de Mim Vai Embora) tocaram demais por aqui.
Segundo o Last.Fm, Consertos em Geral, de Manoel Magalhães, foi o meu álbum mais ouvido dos últimos 90 dias. O álbum não está longe do folk rock da minha adolescência nos anos 10 e traz algo que eu vinha sentindo muita falta e nem sabia: uma excelente coleção de músicas pop sobre amor, daquelas que entram numa categoria específica e preciosa que existe na minha cabeça, que são as músicas-que-poderiam-ser-tema-de-par-romântico-de-uma-novela-das-sete. Minhas favoritas são “Fica”, “Pra Gravar na Sua Secretária Eletrônica” e “Campos”.
Na real, a grande produção audiovisual desses primeiros meses de 2025 foi Conclave (um filme que amei) na versão gifs da Gretchen.
O Segredo é Real
A notícia menos importante que ocupou mais espaço na minha vida, nos meus sonhos e nos meus pensamentos nesses últimos meses foi o retorno do Rilo Kiley.
Eu canto essa bola há tanto tempo que me sinto segura para dizer que eu manifestei esse reencontro. Desde 2023, quando o The Postal Service saiu em turnê junto com o Death Cab For Cutie para celebrar os 20 anos do Give Up, eu sentia nas minhas entranhas que era uma questão de tempo até o Rilo Kiley voltar. Se você não é fluente no idioma indie rock dos anos 2000, o denominador em comum aqui é a Jenny Lewis, líder do Rilo Kiley que nas horas vagas também tocava no The Postal Service, enquanto o Ben Gibbard tocava no The Postal Service e também, claro, no Death Cab.
Minha aposta era que isso aconteceria nos 20 anos do More Adventurous, disco de maior sucesso da banda, em 2024, mas por uma questão de agenda (suponho) a reunion ficou para 2025. Digo tranquilidade que eu nunca mais tive sossego desde que essa notícia saiu, reacendendo meu lado mais insano que andava adormecido desde a Eras Tour, também de 2023.
O primeiro texto sério que eu escrevi e publiquei sobre música na internet, um texto que me pagaram pra escrever (!), foi sobre os dez anos do More Adventurous, lá em 2014. Encontrei ele nos meus arquivos e chorei com aquela Anna Vitorinha tão cheia de ideias e certezas, aquela que não fazia a menor ideia de toda a vida que ela tinha pela frente, no bom e no mau sentido. Naquela época eu dizia até que iria tatuar uma letra do Rilo Kiley (𝓜𝓸𝓻𝓮 𝓐𝓭𝓿𝓮𝓷𝓽𝓾𝓻𝓸𝓾𝓼 na parte interna do braço), coisa que nunca fiz e ainda bem. Ao mesmo tempo, com o retorno da banda, fico me perguntando se não deveria fazer isso de uma vez.
Se quiserem entrar no clima, recomendo ouvir o The Execution of All Things, que também lidera a lista das coisas que mais ouvi em 2025 até agora.
O livro da freira
“O livro da freira” é a forma como me referia ao livro que foi minha primeira leitura de 2025 e também a que mais mexeu comigo até agora. Estou falando de A Escada Espiral, um dos livros de memórias de Karen Armstrong, ex-freira que largou o convento porque não conseguia rezar.
O livro é de 2004, mas essa não foi a primeira vez que Karen tratou do assunto. Seu primeiro trabalho, Through The Narrow Gate, de 82, fala justamente da vida no convento, seguido de Begging The World, publicado em 83, quando ela conta dos seus primeiros anos de vida secular. Vinte anos depois, com uma carreira já firmada como pesquisadora no campo das religiões, Karen Armstrong volta a olhar para sua juventude e conta novamente a história dos seus primeiros anos de vida fora do claustro, dessa vez com o distanciamento necessário para entender de forma mais ampla e profunda o significado desse período, bem como o reflexo que ele teria na vida que ela conseguiu construir para si depois de muito tempo perdida.
Vale dizer que eu me interesso por religiões de um ponto de vista acadêmico, filosófico e social, o que faz com que A Escada Espiral seja um livro quase que automaticamente interessante para mim. O que eu não esperava era encontrar nele um romance de formação de uma mulher se descobrindo escritora e pesquisadora, escrito por alguém que já tinha trabalhado em autobiografias anteriormente e que, nesse momento, consegue enxergar e apontar tudo que ela ainda não via quando escreveu seus primeiros livros, todas as mentiras que ela contou para os leitores e para si mesma.
Digo isso porque reconheço que é difícil ganhar a atenção de alguém quando você diz que está obcecada pelo livro de memórias de uma ex-freira que não é sobre a vida no convento ou escândalos da igreja. Como eu acho que A Escada Espiral deveria ser mais lido, vou jogar baixo e dizer aqui entre nós que ele é uma espécie de A Redoma de Vidro, só que menos culturalmente sexy porque foi escrito por uma pessoa menos magnética que a Sylvia Plath, uma mulher bastante insegura e neurótica, mas profundamente comprometida em sua autoinvestigação e brutalmente honesta sobre sua (suposta) falta de atributos especiais.
Eu me identifiquei muito com ela, principalmente pelo sentimento constante de não pertencimento e o medo de ser alguém sem ideias originais, que não tem nada de realmente interessante a dizer. Li um exemplar emprestado e, como não podia marcar ou grifar as passagens, acabei lotando meu rolo de câmera do celular com fotos das minhas passagens favoritas. Deixo vocês com uma delas.
Quando o horror se afasta e o mundo retorna a sua aparência normal, não é possível esquecer. Vimos o que realmente há ali — o horror oco que se revela ao remover-se a ilusão consoladora da nossa experiência mundana — e nunca mais teremos a mesma reação diante da vida. A revelação se crava na alma e afeta tudo que sentimos e tudo que vemos. No entanto, quando tentamos exprimir essa visão com palavras, inevitavelmente a distorcemos e nos surpreendemos redigindo um texto piegas, melodramático. Melhor ser simples como Coleridge ao descrever o terror recorrente do velho marinheiro depois de sua provação, que o faz sentir-se
Como quem, numa estrada deserta, Caminha com medo e pavor, E, tendo uma vez voltado, segue E para trás não olha mais; Porque sabe que um terrível demônio Bem de perto o acompanha
O elefante no meio da sala
Terminei Sopranos há algumas semanas mas ainda não consigo dizer nada sobre isso. Aliás, ainda estou presa no episódio “Kennedy and Heidi”, um dos últimos da temporada.
Tinha decido que Six Feet Under seria a próxima série clássica que eu demoraria anos para ver inteira até que ela se tornasse minha próxima personalidade, mas a minha vontade mesmo é começar Sopranos tudo de novo, dessa vez acompanhada do podcast do Michael Imperioli.
Enquanto me decido, dei play no piloto de ER.
Não tá fácil pra ninguém. Mas se você curte o meu trabalho, faça um pix para av.norecreio@gmail.com (qr code acima), me pague um café ou deixe um comentário contando sua história.
Ufa, agora acabou!
Obrigada pela companhia e por chegar até aqui!
Do mais absoluto nada, a edição com os meus favoritos de 2024 se tornou o segundo texto mais lido da história desta publicação. Isso me faz pensar que vocês gostam desse formato, o que é uma boa notícia porque é algo que eu gosto de escrever e que não me ocupa tanto quanto os ensaios que costumo publicar. Não sei se tenho fôlego para fazer uma editoria mensal com minhas coisas favoritas, então ficamos combinados que quando eu sentir que tenho coisas o suficiente para compartilhar, coisas legais e que acho que podem interessar mais gente, eu faço uma cartinha dessas. Fechado?
Evitem spoiler de The Pitt nos comentários porque estou atrasada com a minha novela! E se você gostou da edição, faça sua contribuição e me ajude a tomar uma cerveja em dólar no show do Rilo Kiley. O pix é av.norecreio@gmail.com
Os favoritos de uma pessoa normal, versão 2024
para ler ouvindo charli xcx - girl, so confusing featuring lorde
Deixo vocês com um novidade fofa: essa é a Magali, trombadinha que apareceu em casa e se tornou a nova cachorrinha da família. Ainda não nos conhecemos porque ela vai morar com a minha mãe, em Uberlândia (MG), mas tenho recebido uma enxurrada de fotos e vídeos todos os dias e sinto que já somos irmãs. ♡
Don’t be a stranger!
Com carinho,
Anna Vitória
Fui checar a informação e descobri que minha memória me traiu: Plantão Médico, na verdade, era exibida nas noites de quinta.





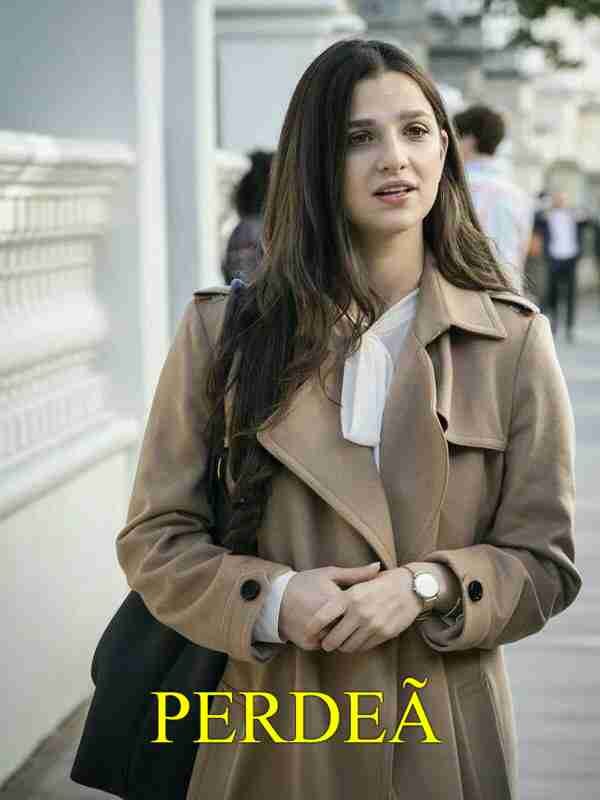






Preciso urgentemente juntar The Pitt à lista de séries que eu finjo que assisto enquanto na verdade consigo ver sei lá meio episódio por semana. E: já to apaixonada pela Magali.